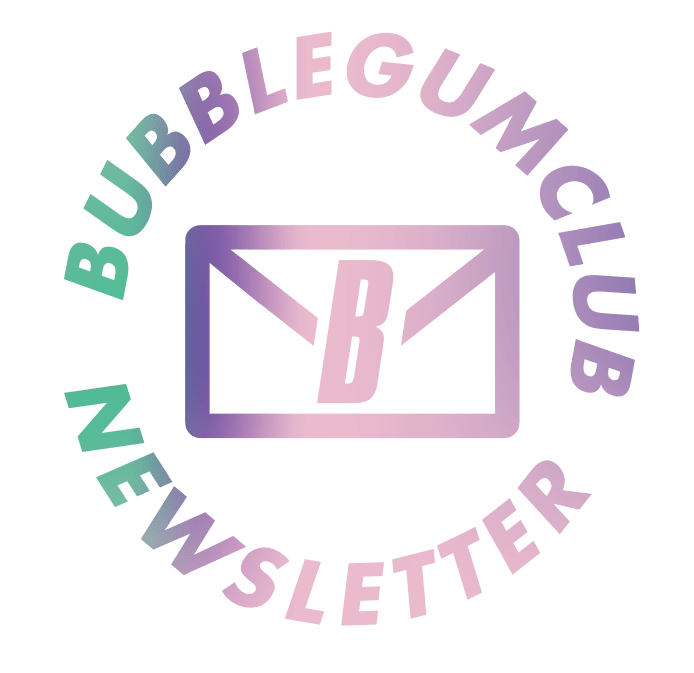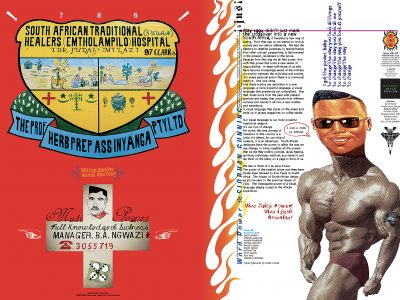Como a multiplicação de festivais e artistas negros como headliners potencializou a estética afro-referenciada e, junto com os atuais movimentos de resgate ancestral, está construindo corpos e comunidades de pertencimento e celebração.
Em 1969, nos Estados Unidos, enquanto os norte-americanos voltavam seus olhos para Bethel, uma vila no interior do estado de Nova Iorque, onde acontecia o primeiro Woodstock, no Harlem, bairro no centro da capital, rolava o Cultural Festival, que reuniu pesos-pesados da música negra como Stevie Wonder, Nina Simone, Gladys Knight and the Pips e Sly and Family Stone para um público de 50 mil pessoas, majoritariamente negra.


Este festival, totalmente gratuito para a comunidade e financiado pela prefeitura e uma empresa de café, era na verdade um sopro de esperança para a comunidade negra nova-iorquina, isso porque naquela década ocorreu um extermínio dos seus principais líderes: o presidente John F. Kennedy em 1963, Malcolm X em 1965 e por fim Martin Luther King Jr. em 1968. A ideia do prefeito “amigo dos negros” —como era chamado em forma de crítica pela mídia na época— Ed Koch, era mostrar para o bairro mais negro de Nova Iorque que eles ainda tinham grandes líderes, e a melhor forma que encontrou para isso foi investindo em um festival só de negros.
Apostar na imagem de negros sorrindo, todo eles bem sucedidos e cantando, era tão novidade naquele momento que fez aflorar no público “o profundo sentimento de pertencimento e que nem tudo era possível novamente”, foi o que afirmou o baterista Ahmir Thompson, conhecido como Questlove, em uma entrevista para a revista Variety, sobre o Festival.

Porém, mesmo com toda essa carga emocional, ainda é recente vermos negros encabeçando os line-ups dos maiores festivais pelo mundo. No Rock in Rio de 2022, maior festival de música do Brasil, por exemplo, a cantora Iza foi a primeira brasileira negra a se apresentar no palco principal do evento. Um dado relevante para um evento que acontece desde 1985, está na sua 22º edição e é realizado em um país onde 54% da população se considera negra.
Já o Coachella de 2018, festival de música e arte, em Indio, na Califórnia, colocou pela primeira vez uma artista negra no headliner do evento e foi apenas Beyoncé, 15 anos depois do seu primeiro hit global, “Crazy In Love ft. JAY Z”.
A importância da estética e presença negra em festivais e comemorações Mesmo artistas negros tendo alcançado o topo da lista da Billboard —principal ranking musical— desde de 1971 com Marvin Gaye e a canção ‘What’s Going On’, é curioso que quando se trata de grandes espetáculos, culturalmente o negro sempre foi deixado de fora dos holofotes, cartazes e mídia.

Um dos vieses para a ausência headliner negros é o racismo por parte de algumas marcas. Atrelar sua imagem a um corpo negro não é comum no Brasil. “Tirem meu anúncio do programa dos rappers”, foi o que Sérgio Pinesi, criador do Espaço Rap, um dos programas de rádio mais importantes para ritmo no país, diz ter ouvido de um dos seus principais anunciantes. “Há preconceito. E, mesmo dentre os que resolvem ser nossos anunciantes, muitos nos dizem para não tocar o anúncio no horário dos rappers”, diz.

Usar a estética, linguajar e sonoridades negras, por outro lado, torna o evento mais político, democrático e um chamariz para mídias e redes sociais. A versão brasileira do Afropunk, que acontece em Salvador, na Bahia, por exemplo, tem movimentado as redes sociais e imprensa nesta próxima edição, que promete ser grande. O festival investe em ir além dos eixos e moldes que a branquitude impôs para o mercado musical e chama as grandes NINA do Porte, Nic Dias, Rayssa Dias, além de tornar o pagodão o grande headline do evento. Assim, o Afropunk Bahia produz representatividade negra como um conceito amplo que se desdobra em tudo no festival, pois desde o início se propõe a construir a partir dos desejos e realidades do público, fazendo junto e de forma mais horizontal: fruto de muita pesquisa, escuta, respeito e um time de produção preto.
Outro evento que desponta usando do identitário racial é o Psica, que acontece anualmente em Belém, no Pará. Comandado pelos irmãos Jeft e Gerson Dias, o festival faz um transido de artistas entre o Sudeste e Norte do país —algo não tão frequente para um país com dimensão continental. Porém, mesmo com o vislumbre de assistir artistas que pouco pisam no Norte do país, o público apoia fortemente artistas locais, como Nic Dias, Leona Vingativa e MC Íris, além das aparelhagens.

Em contraste com artistas que atingem o mainstream, artistas locais circulam pelo público durante todo o festival quase como espectadores, porém, quando sobem ao palco são ovacionados e tem suas canções cantadas por uma multidão. Esse entusiasmo evidencia uma clara identificação do público com os artistas, deixando o clima do evento ainda mais acolhedor.
Vale lembrar que neste caso e como deve ser, a identidade preta se une ao identitarismo indígena local. As músicas mais populares brasileiras misturam-se à raiz nortista com sons do carimbó, brega e melody. As letras e os discursos também mudam: é comum ouvir sobre a desigualdade social e problemas comuns em grandes cidades e em grupos do Norte cantam temas como disputa de terras, crise ambiental e racismo contra indígenas.

Podemos afirmar que são acontecimentos tardios, mas o Brasil é um país onde a consciência social ainda está em desenvolvimento. Naturalizar a imagem e a presença massiva de pessoas e artistas negros em festivais dá força para que cada vez mais deixemos de criminalizar e diminuir o que nos é fundador —rap, funk, pagodão, piseiro— e que investidores finalmente aprendam a contribuir e potencializar eventos de fato brasileiros.
O recente show da Iza no Rock in Rio, por exemplo, foi imensamente elogiado pela mídia. Nos EUA, o espetáculo da Beyoncé no Coachella virou documentário na Netflix. São referência! O saldo para quem aposta no identitário negro e indígena —entregando a eles o protagonismo, agência e autonomia— sempre é positivo e transformador.